Método Arqueológico em Filosofia
 |
| Reprodução e Divulgação |
“Foucault e Borges:
Da Literatura ao Método Arqueológico”.
Caro amigo leitor do portal Líderes, hoje trago um tema de
grande relevância para ampliar sua dimensão de consciência e conhecimento, em
Filosofia, trago Foucault e Borges, onde você terá uma leitura organizada, com
referências em pesquisas.
Portanto, leiam e anotem para pesquisar. Boa leitura e ao
final do artigo, um informativo.
O método arqueológico em filosofia foi descrito, principalmente, por
Foucault em 1969, no livro Arqueologia do Saber. O método teve como ponto de
partida a história das ideias, a qual é atribuída à tarefa de penetrar nas
disciplinas existentes, tratá-las e reinterpretá-las – é a disciplina dos
começos e dos fins, da descrição das continuidades obscuras e dos retornos, da
reconstituição dos desenvolvimentos na forma linear da história. A descrição
arqueológica, por sua vez, abandona os postulados e os procedimentos da
história das ideias na tentativa de fazer uma história inteiramente diferente
daquilo que os homens disseram. Procura estabelecer a constituição dos saberes,
ao privilegiar as interrelações discursivas e sua articulação com as
instituições, na tentativa de responder a como os saberes se transformavam
(AZEVEDO; RAMOS, 2003).
Este trabalho discursográfico, desta forma, apresenta
algumas características do método empregado por Foucault, entre elas, a de que
a arqueologia analisa os discursos eles mesmos, enquanto práticas que obedecem
a regras. Ele é interpretado como monumento, não documento, reinventando a
historiografia que até tal ponto era muito utilizada (Cf. Thiry-Cherques, 2010).
A arqueologia tenta mostrar o jogo enquanto teias de relações, é uma análise
diferencial dos discursos em suas modalidades descontínuas; ela acha as regras
que regem os discursos enquanto práticas que atravessam os indivíduos, que os
dominam e comandam. Este método não tenta achar o ponto cruz entre o autor e a
obra, não busca reconstituição nem repetição discursiva; ele não quer encontrar
a grandiosa origem das coisas e seus nomes, é uma sistematização do
discurso-objeto.
Como Foucault mostra em sua aula inaugural no Collège de
France (A Ordem do Discurso), pronunciada no início de dezembro de 1970, o seu
método acarreta consigo algumas exigências, tais como o princípio de inversão
(a busca pela rarefação do discursiva); de descontinuidade (o discurso deve ser
tratado como práticas que se cruzam, mas podem se ignorar ou anular); de
especificidade (o discurso deve ser concebido como uma violência às coisas); e
de exterioridade (ver, a partir do próprio discurso, sua aparição e
regularidade, passando, aí, à suas condições externas de possibilidade)
(FOUCAULT, 2016).
O que o autor postula aqui, então, são as características de
uma análise tautegórica (Schelling, SW, XI) que privilegia a interpretação
internalista dos significados inscritos em tais sistemas simbólicos, tomados
como dotados de autonomia e de inteligibilidade imanente, uma leitura por
oposição à alegórica, que não pensa o discurso como algo de diferente dele
mesmo – uma análise que tem em vista isolar a estrutura imanente a cada
produção simbólica. Assim, Foucault tratou de distinguir as componentes de uma
qualquer formação histórica de um dispositivo (o discurso é imanente aos factos
históricos), para mostrar as ligações entre essas componentes e fazer surgir a
singularidade do todo (VEYNE, 2009).
Deste modo, para Foucault (2007), o “sentido” não era mais
do que um efeito da superfície, uma reverberação do que atravessa profundamente
o “sistema”, este entendido como um conjunto de relações que se mantém e
transforma independentemente das coisas que essas relações religam (Foucault,
2009). Em sua análise, ele conceitua o que chama de epistémê: um inconsciente
de regras e leis que agem e configuram a si mesmas num campo de experiência
possível dentro de um sistema, definindo numa cultura e num dado momento, as
condições de possibilidade de todo saber (Foucault, 2007). Ou seja, segundo os
saberes – que não são outra coisa senão formações históricas constituídas por
práticas formais de enunciados e visibilidades – o sujeito é visto como sujeitado
à ordem do discurso. Já no campo das relações de forças, a sujeição se redobra,
tendo em vista que o poder que atua por estímulo, incitando forças, extraindo
dos corpos ações úteis para o funcionamento do campo social.
Este arqueólogo das ciências humanas, assim, entende que no
final do século XVIII um ponto de inflexão acerca do conhecimento (ocidental)
ocorreu – os seres humanos passaram a ser interpretados como sujeitos e objetos
do seu próprio conhecimento, concomitantemente. Ocorreram, subsequentemente
neste fluxo, dois tipos de reações metodológicas à fenomenologia. A
hermenêutica e o estruturalismo. Ambas procurando superar a divisão kantiana
entre sujeito e objeto (Dreyfus; Rabinow, 1995). Além de ambas metodologias
eliminarem tanto o próprio sujeito, quanto o seu sentido, e abolirem a noção de
um sujeito transcendental doador de sentido, elas são diferentes.
Deste modo, a fenomenologia investiga, nas palavras de
Dreyfus e Rabinow (1995), “a atividade doadora de sentido do ego
transcendental, que dá sentido a todos os objetos incluindo seu próprio corpo,
sua própria personalidade empírica, além da cultura e da história, que
‘estabelece’ como condicionando seu ser”. A abordagem hermenêutica deseja
manter o sentido presente nos textos literários e nas práticas sociais dos
homens – as ações, nesta metodologia, possuem significados em estado latente,
que poderiam ser descobertos pela leitura interpretativa, mesmo estando ocultos
aos agentes.
Dreyfus e Rabinow, ao acompanharem as estratégias analíticas
desenvolvidas por Foucault, defendem que ele constantemente buscou ir além da
hermenêutica e do estruturalismo. Este que se esforça para decompor os
elementos básicos, regras ou leis que seriam responsáveis pelas ações humanas,
investiga e esquadrinha as leis objetivas que governam as atividades humanas.
Ao se afastar da análise estruturalista que desconsiderava totalmente a noção
de sentido, Foucault a substituiu “por um modelo formal de comportamento humano
que apresenta transformações, governadas por regras, de elementos sem
significado” (DREYFUS; RABINOW, 1995).
Ele juntamente “tentou evitar o projeto fenomenológico de
ligar todo o sentido à atividade de dar sentido de um sujeito autônomo e
transcendental” (Ibidem), do mesmo modo buscou se desviar da “tentativa do
comentário de ter o sentido implícito das práticas sociais, assim como o
desvelar feito pela hermenêutica de um sentido diferente e mais profundo do
qual os atores sociais têm uma vaga consciência” (Dreyfus; Rabinow, 1995). Como
dito por Veyne (2009), Foucault se junta ao nominalismo espontâneo dos
historiadores para contornar tanto quanto possível os universais antropológicos
a fim de os interrogar na sua constituição histórica.
Desta maneira, para Foucault, as ciências humanas podem ser
observadas como sistemas discurso, que nas suas práticas as instituições
sociais podem exercer influência. Recomenda-se, para tal, investigar os
discursos sem tocar no debate se estes são, ou não, Verdade. Como outra
proposição, ele diz ser preferível tratar o que é enunciada como uma espécie de
“discurso-objeto”. Tratar-se, desse modo, de uma teoria de um discurso
“ortogonal a todas as disciplinas, com seus conceitos aceitos, sujeitos
legitimados, objetos inquestionados e estratégias preferidas que produzem
afirmativas justificada de verdade” (DREYFUS; RABINOW, 1995).
Segundo Gonçalves (2009), o percurso das reflexões de
Foucault não se encerra com a arqueologia das práticas discursivas. Bem pelo
contrário, ela é ponto de partida para outra parte importante de sua obra:
aquela que trata de questões referentes ao poder e à auto-subjetivação. Em
Dreyfus e Rabinow (passim), há três momentos distinguíveis na obra
foucaultiana:
1) onde há o predomínio da linguagem, é perceptível uma
tentativa de superação do estruturalismo e da hermenêutica;
2) onde suas reflexões sobre o poder redundariam o corpo
como o lugar de práticas sociais ligadas às macros organizações de poder;
e
3) onde se apresenta a temática do sujeito em sua
auto-subjetivação.
Voltando à arqueologia, em As Palavras e as Coisas,
Foucault, criticando Kant, elimina a noção transcendental do sujeito (Dekens,
2011). Uma marca recebida do método estruturalista. Como dito por Ricoeur (cf.
1963), a antropologia de Lévi-Strauss é kantismo sem sujeito transcendental. E
não é sem razão que, em seu último ano de vida, Foucault (ou François Ewald,
seu assistente que parece ter sido o verdadeiro autor da frase) diz: “se Foucault
se inscreve na tradição filosófica, é então na tradição crítica de Kant que
podemos situá-lo, no projeto de uma história crítica de nosso pensamento” [3]
(FOUCAULT, 2001 apud. ALVEZ, 2016).
Tal como feito por Lévi Strauss (2008) – que retomou
Merleau-Ponty e trabalhou os mitos como uma estrutura tripartite do pensar
sobre o fenômeno, isto é, caracterizá-los no âmbito da fala (a ser analisado
enquanto tal), da língua (na qual é formulado) e da linguística (o caráter
absoluto do mito que o distingue dos outros dois aspectos) – Foucault, fazendo
com o discurso o que foi feito com o mito – que “é tautegórico, diz o que diz e
da forma que diz como única maneira possível de tratar a realidade, sem poder
dizer de outra maneira” (Azevedo, 2014) – percebe que a “substância” destes se
encontram em suas histórias: é uma linguagem trabalhada em nível elevado,
descolada do fundamento na qual rodou.
Neste sentido, tanto a Crítica da Razão Pura, quanto As
Palavras e as Coisas, são reflexões sobre o conhecimento. A arqueologia faz,
assim, a historicização do kantianismo atribuindo às palavras uma configuração
histórica específica e analisando os discursos nas suas relações. Neste
sentido, os elementos (unidades constitutivas) dos discursos possuem
significância quando entram em composição e quando se relacionam, pertencendo à
uma ordem específica (mais complexa) da linguagem, que deve ser buscada acima
do nível ordinário da vida social.
Se antes a crítica identificava as limitações da razão
humana, com Foucault ela se abre à transgressão: uma outra forma de pensar pode
emergir. Os limites já não são universais e necessários, eles estão sempre
abertos às alterações. Desta forma, As Palavras e as Coisas (2007) se inicia
afirmando que o livro teria nascido de um texto de Jorge L. Borges. Foucault
afirma que Borges o teria feito rir durante muito tempo, “mas não sem um
mal-estar evidente e difícil de ser superado” (Foucault, 2007). Em O idioma
analítico de John Wilkins, Borges apresentou à Foucault uma velha enciclopédia chinesa
na qual os animais são divididos em 14 categorias:
a) pertencentes ao imperador,
b) embalsamados,
c) domesticados,
d) leitões,
e) sereias,
f) fabulosos,
g) cães em liberdade,
h) incluídos na presente classificação,
i) que se agitam como loucos,
j) inumeráveis,
k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo de
camelo,
l) et cetera,
m) que acabam de quebrar a bilha,
n) que de longe parecem mosca (BORGES, apud. FOUCAULT,
2007).
O que se coloca neste prefácio é a questão de como organizar
as coisas. Na arqueologia, onde analisam-se os discursos para além da noção de
verdade, pode-se pensar esta categorização longe da noção de absurdo, mas como
possibilidade transgressora. Como dito por Foucault, expondo o hiato entre o
discurso e a realidade:
ali, a monstruosidade não altera nenhum corpo real, em nada
modifica o bestiário da imaginação [...] o que transgride toda imaginação, todo
pensamento possível, é simplesmente a série alfabética (FOUCAULT, 2007).
O conto de Borges, ao provocar riso e mal-estar, aponta para
outra “ordem das coisas”, para outras maneiras de pensar, para esses outros
lugares e esses “homens outros” (Alvez, 2016). Acerca das monstruosidades,
disse Foucault, “o impossível não é a vizinhança das coisas, é o lugar mesmo
onde elas poderiam avizinhar-se” (Foucault, 2007). Contudo, quando se anuncia a
onda que vem por levar o homem, a total transgressão da ordem das coisas e o
descolamento dos discursos do nível ordinário da vida, explode-se o sentido de
natureza, pois ela nada mais seria uma categoria organizadora do saber, pronta
a ser questionada: “seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um
grande número de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria” (IBIDEM).
A natureza seria, desta maneira, mais do que um conceito
científico, um “indicador epistemológico” que permitiria perceber que, entre as
mais diversas áreas do saber empírico (a linguística, a etnologia, a
psicanálise, entre outras), haveria certa coerência ao perceber um campo mais
amplo ao qual ele denominou o saber de uma determinada cultura, fora do qual
não faria sentido nenhum falar numa natureza (Souto, 2014). A estrutura
intrínseca à natureza se esvaece, ela não mais é deduzida do plano do universal
(transcendental, no vocabulário kantiano), uma vez que o nível da
universalidade só é passível de ser aferido como parte do índice dos diversos
discursos que uma dada sociedade produz.
A arqueologia de As Palavras e as Coisas (1966), e sobretudo
de A Arqueologia do Saber (1969), possibilitou uma nova série de pesquisas
acerca de nós mesmos. As organizações nas quais determinados conteúdos
empíricos podem se prestar são próprios à ordem discursiva, e isto se deve a
uma disposição socialmente constituída, cuja formação na história caberia
analisar. Um exemplo desta problemática é a noção de justiça, que tão
claramente Foucault debateu com Chomsky. Cito:
a ideia de justiça em si é uma ideia que, na verdade, foi
inventada e posta em circulação em diferentes tipos de sociedade como um
instrumento de determinado poder político e econômico ou como uma arma contra
esse poder (CHOMSKY; FOUCAULT, 2014, apud. SOUTO, 2014).
Longe de se querer debater, aqui, Justiça, o que se salta
aos olhos metodológicos é como o problema é analisado – a noção de justiça é
tomada como algo inventado em uma determinada sociedade. O mesmo, então,
ocorreria com as demais noções. Como pronunciado por Foucault, “as heterotopias
(encontradas tão frequentemente em Borges) dessecam o propósito, estancam as
palavras nelas próprias” (FOUCAULT, 2007). Diluídas as categorias, a desordem
analítica seria instaurada ou seria uma transgressão que, pela ausência de lei
e geometria, abria inúmeras possibilidades ordenadoras? Como por ele mesmo
perguntado:
Em que “tábua”, segundo qual espaço de identidades, de
similitudes, de analogias, adquirimos o hábito de distribuir tantas coisas
diferentes e parecidas? Que coerência é essa — que se vê logo não ser nem
determinada por um encadeamento a priori e necessário, nem imposta por
conteúdos imediatamente sensíveis? Pois não se trata de ligar consequências,
mas sim de aproximar e isolar, de analisar, ajustar e encaixar conteúdos
concretos; nada mais tateante, nada mais empírico (ao menos na aparência) que a
instauração de uma ordem entre as coisas (FOUCAULT, 2007).
Foucault e Borges – Literatura e Transgressão.
A obra de Foucault veio, como no supracitado, abrir o campo
de questionamento das similitudes e analogias que separariam os diferentes e
aparentados; da ordem e da lei que marcam a natureza e a cultura, o verdadeiro
e o falso, o louco e o racional etc. Pode-se agora transgredir a ordem que
instaura o solo positivo onde as coisas poderão se avizinhar e serem
classificadas. Não é gratuito que Foucault, então, tenha escolhido Borges para
ser seu referencial estético na abertura de As Palavras e as Coisas. Como dito
por Gomes Jr. (1991), a literatura de Borges é um comentário sobre a própria
literatura, cito: “o sentido está contido nos livros e o seu universo é sempre
superior ao da experiência”, isto é, mantem-se aqui a mesma lógica apresentada
por Lévi-Strauss e tomada no método arqueológico de Foucault.
Para Borges (1974) “o mundo existe para acabar em livro”: o
arquivo, a palavra e o nome são as coisas últimas, únicas, que podem ser
analisadas. Têm-se a ideia de que na Biblioteca de Babel sempre se busca um
sentido na desordem dos livros, é no conjunto de elementos heterogêneos que se
estabelece um conjunto de relações que possibilita aquilo que se mostrará como
sentido. Deduz-se que a “biblioteca é total e que suas prateleiras registram
todas as possíveis combinações” (Borges, 1974) – entra-se, então, no campo
ordenativo. Cito Gomes Jr. (1991) acerca da Biblioteca de Babel: “é como que
tudo o que se imaginou, se passou, ou se passará, pudesse estar descrito e
narrado através das linguagens”.
Todas os vetores de força e poder, todas os enunciados de
saber, todas as possibilidades estão dentro de um mesmo conjunto tautegórico de
possibilidades: tudo se estabelece dentro da relação saber-poder, mesmo sua
própria negação e resistência. É desta maneira que pensaria Borges, operador
estético de Foucault. Como dito por Gomes Jr. (1991), “Borges toma como
pressuposto o limite máximo dessa formulação [o arranjo e suas regras]; no
lugar de combinações regradas e limitadas, propõe logo a ideia de todas as
combinações possíveis”. Afirma-se, então, que a interrogação filosófica é mais
um jogo dentro das infinitas possibilidades postas pela literatura –
expressa-se, assim, uma das marcas mais proeminentes do pós-estruturalismo: a
estetização máxima da obra filosófica, agora feita à moda de ensaios.
Tal como na obra de Foucault, em Borges não há relação de
exterioridade ou antecedência entre ordem e caos. É graças aos processos
conflitivos de organização dos diversos elementos linguísticos heterogêneos que
se estabelece o registro imanente do pensamento aqui expresso. Na biblioteca,
assim como nos diversos enunciados e discursos, não existem dois livros iguais,
todos eles são estritamente singulares, únicos, valendo mais a prática de
relacionar os diversos signos, estes que apresentam “valor próprio, um conteúdo
independente que se combina com a função significante para modular”
(Lévi-Strauss, 2008). Ora, assíduo leitor de Saussure e introdutor da
linguística na antropologia, quem poderia ter pensado Borges da seguinte
maneira é Lévi-Strauss: “a linguagem e a biblioteca. Ambas prefiguram a ordem
dotada de sentido que serve à comunicação. A primeira com suas regras fonológicas,
sintáticas, semânticas; a segunda com suas tábuas classificatórias que dividem
o pensamento humano” (GOMES JR., 1991).
Tal como na obra de Foucault, em Borges não há relação de
exterioridade ou antecedência entre ordem e caos. É graças aos processos conflitivos
de organização dos diversos elementos linguísticos heterogêneos que se
estabelece o registro imanente do pensamento aqui expresso. Na biblioteca,
assim como nos diversos enunciados e discursos, não existem dois livros iguais,
todos eles são estritamente singulares, únicos, valendo mais a prática de
relacionar os diversos signos, estes que apresentam “valor próprio, um conteúdo
independente que se combina com a função significante para modular”
(Lévi-Strauss, 2008). Ora, assíduo leitor de Saussure e introdutor da
linguística na antropologia, quem poderia ter pensado Borges da seguinte
maneira é Lévi-Strauss: “a linguagem e a biblioteca. Ambas prefiguram a ordem
dotada de sentido que serve à comunicação. A primeira com suas regras
fonológicas, sintáticas, semânticas; a segunda com suas tábuas classificatórias
que dividem o pensamento humano” (GOMES JR., 1991).
Como acima apresentado, estabelece-se em Borges uma relação
entre a literatura e o jogo, em que a primeira é encarada como um jogo de
variações feitas com seu conjunto de termos. É possível, então, pensar uma
analogia entre a literatura de Borges e ao universo mitológico, onde tem-se um
universo de suspensão das autorias. O mito é um gênero de autoria inexistente,
que se perde na ordem do tempo. Segundo Borges (1974), a literatura é pensada
como “o hábito de intercalar traços circunstanciais e de acentuar as ênfases” –
assim como o mito (ou a épistèmé), a literatura borgiana é um intercalar de
signos enfatizados. Como apontado por Barthes (1982) é “ao mesmo tempo objeto e
olhar sobre esse objeto, fala e fala dessa fala, literatura objeto e
metaliteratura”.
Não é possível refletir sobre tais questões sem lançar mão
da obra de Foucault, que nos apresenta sua morte do autor, que produz discursos
sobre discursos etc. Não é um assombro ele ter encontrando seu paraíso mental
na obra de Borges. Como dito por Menezes (2008), não é raro ao longo da obra de
Foucault que, em muitos de seus ditos e escritos, ele faça referência à
literatura, ao problema da linguagem e a noção de ficção. Notória é a
declaração sobre seu próprio trabalho:
...] as pessoas que me leem, em particular aquelas que apreciam o que eu faço, me dizem sempre rindo: “No fundo você sabe bem que o que você diz não é senão ficção”. Eu respondo sempre: “Claro, não há problema que isto seja outra coisa senão ficções” (FOUCAULT, 1994).
A relação de Foucault com a leitura se coloca, então, em sua
boca na entrevista dada ao jornal Le Monde, anos depois da citação de Borges,
na qual ressurge em suas palavras o estatuto da literatura na sua obra:
Para mim a literatura era algo a ser observado e não analisado
ou reduzido ou integrado ao campo de análise. Era um descanso, um pensamento a
caminho [...] no meu livro sobre Raymond Roussel e depois no livro sobre Pierre
Rivière. Em ambos se coloca a mesma questão: qual é o limite do qual um
discurso (quer seja do doente do criminoso etc.) começa a funcionar no campo
conhecido com literatura? (FOUCAULT, 1986).
A experiência foucaultiana do paradoxo em relação às
palavras e as coisas, corresponde um paralelo da experimentação borgiana, em
torno dos volumes do espaço e do tempo em relação à construção do conceito de
épistèmé (Menezes, 2008). Ou ainda, aquilo que se coloca as condições de
possibilidade do pensar na superfície da linguagem, como uma fimbria que
distingue no regime dos enunciados aquilo que seria ficção. Para Foucault “toda
a “ficção” consiste no movimento pelo qual um personagem se desvencilha da
fábula a qual pertence e torna-se narrador da fábula seguinte” (FOUCAULT,
1994).
Desta forma, para Foucault:
Fabula é o que é contado (episódios, personagens, funções
que exercem na narração, acontecimentos). Ficção é o regime da narração, ou,
melhor, os diversos regimes segundo os mais ela é narrada (...) A ficção é a
trama das relações estabelecidas, através do próprio discurso, entre este que
fala e este o qual ele fala. Ficção aspecto da fábula (...) A fábula de uma
narração que habita o interior das possibilidades míticas da cultura; sua
escritura habita no interior das possibilidades da linguagem; sua ficção no
interior das possibilidades do ato da palavra (FOUCAULT, 1994).
O que se corta com essa alquimia Foucault-Borges são as
psicoleituras, isto é, lê-se a obra fora da esfera pessoal do autor. Para eles,
a obra é o ponto de partida, não de chegada da análise – ela é o campo
privilegiado de investigação. É no jogo da literatura e sua linguagem que se
inverte a abordagem psicanalítica, pois é nas primeiras que se dá a variedade
de possibilidades. No que se refere a tradição literária, esta é tomada em si
mesma, independente dos sujeitos no que diz respeito ao desenvolvimento dos
gêneros, temas, metáforas e outras estratégias literárias. Tal como feito por
Lévi-Strauss, acentua-se com isso o afastamento do mito daquele que o produziu,
isto é, abandona-se o sujeito; como dito pelo autor: “aceitamos, pois, a
qualificação de esteta, por acreditarmos que a última finalidade das ciências
humanas não é constituir o homem, mas dissolvê-lo” (LÉVI-STRAUSS apud. WERNECK,
2002).
O fracasso da projeção da esfera individual, em seu mito
psicanalítico e expressão pessoal com partida para análise dos documentos e
discursos, então, reside na impossibilidade de traçar o caminho de volta em
direção ao futuro, ao encontro da diversidade (Gomes Jr., 1991, p. 127). Isto
é, esse esquema fecharia a abertura para possibilidades, dado que os resíduos
do inconsciente já indicariam todas as pistas do núcleo original do texto ele
mesmo – coisa que, aparentemente, parece ser veementemente abandonado por
Foucault-Borges. Tem-se de pensar a obra dentro do seu sistema de relações da história
do pensamento, dentro do conjunto de outros enunciados que determinam seu campo
de possibilidades de existência presente.
É com a já exposta leitura de Borges feita por Foucault que
pôde-se ver como ambos os autores vão ao extremo limite da ruptura com a
“tópica coletiva, com a tradução calcada nos gêneros” (Gomes Jr., p. 130). O
que se quer expor com esse momento é a capacidade classificativa, é a primazia
e importância de como se dará a ordem das cosias, e, consequentemente, como
Foucault leitor de Borges vai pouco a pouco, ao inventar outras tramas e
relações para o discurso, destroçando a ordem da classificação literária por se
aproximar daquilo que não convém, expondo a separação daquilo que deveria estar
aproximo e criando espaços (in)congruentes entre as mais diversas unidades
nominativas – há de se lembrar, como já apontado, a leitura de Paul Veyne que o
coloca como um autor nominalista.
Desta maneira, dada a estetização máxima do pensamento e
discurso filosófico como meio para a possibilidade transgressora e criativa, e
pela base da ficção feita por Borges, é possível considerar a técnica de
leitura e de escritura que eles apresentam como uma fuga para se repensar o
mundo e a Literatura. Na realidade, se um texto está sempre face a face com ele
mesmo, pode-se dizer, tal como apontado por Sabot (2013), que o mesmo se passa
na tangente de sua relação com outros textos – cada livro contém em si o
labirinto de uma biblioteca. A Literatura, e todo conjunto de palavras e
discursos, deve, assim, ser pensada como um único texto, infinitamente variado,
modulado e transformado, sem que um único de seus estados possa ser isolado e
fixado definitivamente.
O que se tem aqui é uma filosofia da relação em que “nos
propomos (...) definir cada mito pelo conjunto de todas suas versões”
(Lévi-Strauss, 2008), isto é, a Literatura, a biblioteca e seus textos
infinitos, devem ser analisados em seu conjunto total: todos os discursos devem
ser dispostos horizontalmente e vistos em todas suas versões. Para compreender
os mitos, e agora a Literatura, é necessário, então, captá-los em seu
movimento, não importando a forma sob a qual eles se apresentam: estilhaçados
ou fragmentados – o universo mítico-literário esta sempre em permanente
mutação. Do mesmo modo, quando um elemento se transforma, os outros se adaptam
à mudança sofrida pelo primeiro e, por sua vez, também se modificam. Isto é,
os mitos se modificam a si mesmos, sua mudança opera por contagio, uma
influenciando a outra. Como apontado por Werneck (2002), acerca do
funcionamento dos mitos: eles operam como caleidoscópios. E é neste ponto que
Foucault e Borges vão operar.
Isto posto, Barthes vai retomar, então, esta perspectiva de uma mobilidade e de uma plasticidade textuais inerentes à prática da escritura literária:
…] um texto não é feito de uma linha de palavras, emanando
um sentido único, de alguma forma teológico (que seria a « mensagem » do
Autor-Deus), mas um espaço com dimensões múltiplas onde se combinam e se
contestam escrituras variadas, não sendo nenhuma original: o texto é um tecido
de citações, oriundas de mil centros da cultura. Parecido à Bouvard et
Pécuchet, esses eternos copistas, sublimes e cômicos ao mesmo tempo, e cujo
profundo ridículo designa precisamente a verdade da escritura, o escritor pode
tão somente imitar um gesto sempre anterior, jamais original (BARTHES, 2002).
Tais análises misturam-se às contribuições de Foucault e de
Borges a partir de um questionamento comum que gira finalmente ao redor da
noção de obra, onde se pode pensar o “literário” ou o “filosófico” na medida em
que se desenvolvem e transformam nos seus modos de permanente reavaliação. O
“literário” e o “filosófico”, assim considerados, referem-se a um complexo de
processos, articulando entre estes, de maneira dinâmica, e movimentos
incessantemente negadores da ilusão de uma identidade, estabilidade ou
permanência dos supracitados. É, sem dúvida, uma condição dinâmica
transformadora de invenção e reinvenção permanentes, que literatura e
filosofia, não somente se comunicam entre elas, mas se praticam em conjunto,
sem exclusividade e sem limites (SABOT, 2013).
Dado o supracitado, pode-se ver como a Literatura se
apresenta como parte constitutiva do método arqueológico de Michel Foucault. A
dialogização entre Lévi-Strauss e a obra de Borges, operador estético –
ferramenta de pensar; métodos e técnicas apropriados e transformados em modus
operandi do método – que funciona, ao mesmo tempo, como uma espécie de
iconografia desse pensamento, abre diversas possibilidades, não só analíticas
para a leitura da obra de Foucault, mas também para transformações efetivas da realidade.
A possibilidade de pensar organizações transgressoras do mundo é o que esta
chave de pensamento abre para os leitores mais atentos da realidade.
Para Geertz (2008), fundador da antropologia hermenêutica,
nossa cultura deve ser interpretada em seus fenômenos como texto, traçando uma
curva do discurso social; é numa semântica social que se pode examinar a
cultura, onde homem se torna um animal amarrado à teia de significados que ele
mesmo teceu, sendo a cultura essas teias e a sua análise. Por reverberações
fenomenológicas em sua obra, introduz-se a ideia do indivíduo-leitor, afirmando
que os fenômenos sociais podem ser lidos pelos próprios membros da sociedade: o
sujeito deve interpretar ativamente aquilo que vê. Quando se olha para a
cultura como um conjunto de textos a serem interpretados, a textualização se dá
como pré-requisito à interpretação.
Pode-se, assim, numa aventureira intersecção entre
Geertz-Foucault-Borges, pensar o mundo cultural ele mesmo como texto, como
Literatura, em que seus diversos fonemas, signos etc. podem ser dispersos
horizontalmente, a fim de serem interpretados, lidos, analisados e relacionados
entre si num movimento compreensivo de como são hoje dispostos, mas também de
como poderiam o ser diferencialmente. Como anteriormente apontado por Dreyfus e
Rabinow, a tradição da fenomenologia, cara a Geertz, investiga a atividade
atribuidora de sentido aos diversos objetos, buscando o sentido dos textos
literários, contudo, Foucault não a rejeita completamente, mas a busca superar.
No mais, cabe, agora vista as influências borgianas no
método arqueológico, repensar a hermenêutica diferencialmente, isto é, ver a
realidade como este texto literário à moda da transgressão possibilidade pelo
processo relacional acima exposto. Se, tal como dito por Borges, o mundo acaba
em livro, e é exatamente a partir desse ponto que o projeto relacional de
Foucault sobre a épistèmé se dá, quais seriam então as possibilidades outras se
virmos a cultura ela mesma como texto, entretanto, feito tal como pensado pela
arqueologia? Questionamento aventureiro que há de se ficar para um outro texto.
Enfim, além de você, amigo leitor, agora poder pesquisar nas
fontes que citamos nos autos, também podem pesquisar outros artigos de minha
autoria ao seguirem as páginas do Facebook:
Colunista Nilo Deyson Monteiro Pessanha,
&
Filósofo Nilo Deyson Monteiro Pessanha.
Boa Leitura!



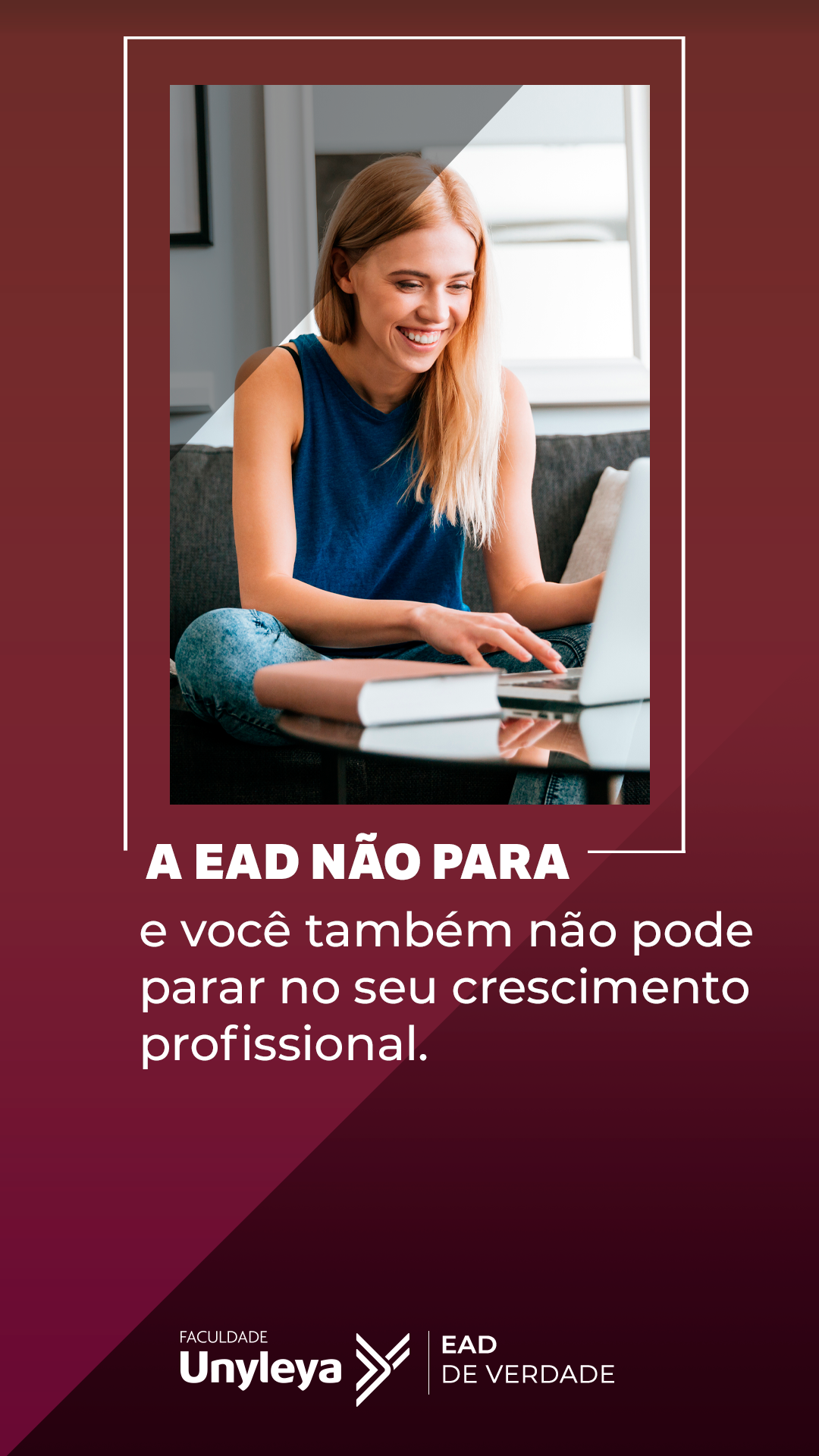




















.jpeg)




Nenhum comentário:
Agradeço a sua participação! Compartilhe nossos artigos com os amigos, nas redes sociais. Parabéns